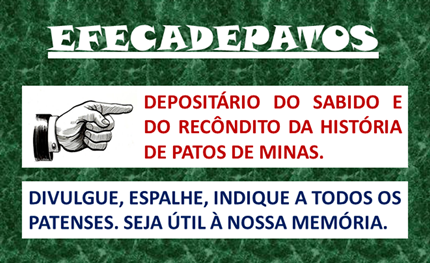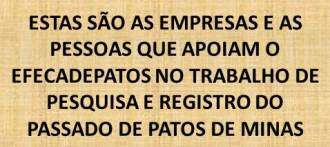Bom, desde menino acostumado com meu irmão estudando acordeom. Por força de minha mãe, inclusive foi ela que escolheu o instrumento que eu ia usar: violão; com o Zico. Eu achava bem melhor ir jogar futebol que ir para a aula do Zico. Mas aí, fui crescendo e no 1.º Festival que teve aqui, acho que em 1967 ou 1968, eu era colega do Luiz Carlos lá no Estadual. E o Luiz Carlos me falou: “Escuta, você não faz música, não?” Respondi: “Posso tentar”. E ele: “Pois é, eu tenho uma letra aqui, “Procura alguém”, vai ter um festival e “quem sabe”. Levei a letra para casa e de repente pintou a primeira música. A primeira letra dele e a minha primeira música. Aí entramos no festival e acho que ele lá ganhou como intérprete. E isso foi crescendo.
Fui para BH estudar; minha intenção era fazer medicina, acabei fazendo sociologia. Inclusive no festival foi muito engraçado, quem cantou foi o Luiz Carlos e o Tiãozinho Borges. E tinha dois microfones lá no Riviera. Um microfone era só para a Rádio e o outro ao vivo para o Riviera. O Luiz Carlos cantou no da Rádio e o Tiãozinho no do Riviera. Só saiu a 2.ª voz. Neste contato com o Luiz Carlos conheci os Beatles, que deviam estar pelo 4.º LP, Bob Dylan e foi crescendo latente.
Fui para BH e não tinha nada de ser músico, fui para fazer faculdade. Dois anos depois, a Faficha, além do acadêmico, tinha mil lances atrás. Toda semana pintava um músico, numa promoção do pessoal. E um colega meu, Edgar, foi um cara assim que me deu a maior força para começar tudo. Me viu tocar e falou: “Pô, você vai tocar, suas músicas são muito bonitas, etc”. Aí eu chamei o Dênis, que estudava na Faficha também e a gente fez o show. Acabamos de fazer o show, chegou o Edgar e o Murilo e me chamaram para entrar no Grupo Mambembe. Fui. Comecei a transar no Mambembe e aquilo foi crescendo. Tanto na prática, como interiormente, foi crescendo aquele negócio de música. De repente eu comecei a fazer mil coisas. Ganhei uma viola, comecei a transar a viola. Então, acho que bem natural eu não escolhi, eu não falei assim: sou músico, então eu vou fazer música. Não foi isto de jeito nenhum. Foi uma coisa que veio de dentro. Foi uma coisa que nasceu, cresceu, e transbordou.
Como foi que pintou o show em Brasília e qual foi a aceitação?
O show de Brasília foi o seguinte: há uns dois anos atrás que ele vem sendo “parido”. Quem começou com esta ideia toda foi o Wilsinho. Um dia ele me telefonou: “Olha, eu tô aqui com a casa arrumada para o show”. Na época, já existia o Catarse; formado, estruturado e tal. O Wilsinho tinha visto o show na primeira vez que a gente veio no Cine Garza, na Festa do Milho. Eu nem conhecia o Wilsinho direito e ele me telefonou: “Olha, temos que levar seu show em Brasília”. E acabou que eu furei. Tudo marcado. Um tempo mais tarde houve uma oportunidade da gente ir na UNB e a gente não foi. Então a grande força do show em Brasília foi o Wilsinho. Aí eu fui em Brasília procurar emprego como sociólogo. Mais tarde fui para Viçosa fazer um curso de Mestrado, o curso acabou pifando. Então eu falei: Pô, eu vou para Brasília porque lá é a matriz do capitalismo, tem que pintar um emprego. Cheguei lá, vira e mexe, o Wilsinho falou: “Pô, e o show? Você está aqui e nós vamos rodar os teatros aí para você conhecer”. Chegamos na FUNARTE, e ela estava fazendo uma promoção: dando a casa, publicidade, som e tal. E além disso tinha o movimento do Sindicato de Oposição Bancária – inclusive o candidato a presidente é o Augusto, aqui de Patos. Então juntou a força da FUNARTE, com a do Sindicato dos Bancários. Eu estava totalmente despreparado, eu estava sozinho. Tinha acabado o Catarse nesta época. Aí acertamos a data com a FUNARTE, cheguei a BH e reuni o povo. Então foram o Wilsinho e o Clênio as maiores forças. Então foram três forças: FUNARTE, o Sindicato dos Bancários e a vontade da gente de fazer.
E quanto à aceitação? Você acha que o pessoal topou?
Acho que foi muito bom. Muito bom mesmo. Porque a FUNARTE é uma sala meio fora de mão. O ônibus não pinta lá e só quem tem carro ou coisa assim, tinha condição de ir ao show. E a gente vendeu bem. Casa lotada. Mil festa. O povo chegando. E foi uma coisa bem de improviso, uma semana de ensaios.
Você já tocou em algum conjunto aqui em Patos?
Já. Inclusive uma coisa interessante, isto faz 10 anos, exatamente. A gente começou. Foi o meu começo, do Heleno e Taquinho (primeira vez que tocamos). Cheguei para o Taquinho e disse: Olha, daqui a três dias nós vamos estrear lá no Social e você vai tocar baixo e cantar. Ele nunca tinha tocado baixo na vida. Baile tinha que ter mais ou menos 50 músicas. Então foi o começo (só tinha o Castelo que era veterano). Então foi o começo mesmo, meu, do Taquinho e do Heleno.
Isto foi em 70?
Não, em 69.
Como que pintou o Catarse e por que acabou?
O Catarse pintou do show da Faficha. Eu fui para o Mambembe e lá eu não tinha muita afinidade musical. Mambembe era mais bossa nova, samba e eu já de Beatles, Roberto Carlos, outra formação. O Murilo chegou em mim e falou: “Olha, você vai é formar seu grupo, você tem força para isso e tal. Aí pintou o TOCAIA que era o 1º grupo: eu, o Denis, Ivan Noé, Rosdenam (BH). O Tocaia teve assim uns três shows e morreu. Aí na Faficha eu conheci o Dim Salabim que era músico. E no contato com o Dim, eu falei: Dim, nós temos que fazer alguma coisa juntos. Ele conhecia mais dois ou três músicos e da nossa reunião pintou o Catarse. Eu e o Dim, não só musicalmente, mas de ideias, a gente se afinou. Então foi daí, eu acho que desse show da Faficha, o início de tudo, não só da minha carreira musical, mas do Catarse. O Catarse acabou, igual acaba todo sonho. Catarse é um negócio interessante, além de tocar, a gente tinha mil ideias: de formar uma colônia agrícola, viver a gente ali, plantando, colhendo o que a gente plantasse, comendo daquilo, vivendo da terra e fazendo música. A ideia que alimentava o Catarse era esta, inclusive Catarse (o nome) surgiu disso, da libertação da gente no campo, da enxada na mão, de noite com a viola. A gente achava que era uma coisa muito parecida. A gente sempre alimentava isso, além dos ensaios a gente estava sempre juntos e discutindo estas coisas. Aí, de repente, sei lá, pintou uma necessidade financeira. Inclusive acho que fui eu quem acabou com o Catarse. O Catarse não, acabou não. Fui eu que acabei, porque senti que o Catarse estava muito amarrado musicalmente e eu tinha uma necessidade muito grande de ser músico, inclusive até de arrancar do próprio destino. Chegar no destino, sentar ele no colo e falar: Pô, eu sou músico e tal, qual é a sua? O Catarse era amarrado, sabe, ele não era um grupo que queria. É, ele não tinha pretensões de ser “artista” e de repente pintou na cabeça esta pretensão. Aí então fui eu quem saiu, o Catarse continuou.
Não tinha as influências musicais, não eram assim variadas, não?
Não era não. O Catarse, esse lance que estou falando do grupo, é, com estas ideias e tal era eu, o Dim, Ivan Noé e o Rosdemam, então eu e o Ivan Noé tivemos a mesma influência, a mesma formação.
Sabe por quê? O Catarse que a gente conhece aqui em Patos é o Sergião…
Ah! Não. É isto que eu acho que já estava morto, sabe? O Ivan, Taquinho, porque o Catarse para mim, foi a época de Dim, Ivan Noé, e tal. Então eu saí. Falei: Pô, eu quero ser músico, foi quando pintou Ivan, Taquinho, todo mundo disposto e o pessoal ficou (Dim, Ivan Noé) chamava até, acho, que Mão Preta, coisa assim. Eu fiquei com o nome comigo – Catarse. Isto que você tá falando aí é diferente mesmo. A formação, o pessoal já é bem mais progressista. Agora, eu tô um pouco atrás: tô na morte do Catarse, na morte com o Dim, Ivan Noé. A morte ideológica do lance. A morte verdadeira do Catarse, foi assim: chegamos num ponto que, ou a gente vivia de música ou a gente “sartava” fora. Então fizemos uma tournée pelo interior, umas seis cidades mais ou menos: Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Diamantina, Santa Luzia. Então a gente, enfiou a aparelhagem na Kombi. O Gigante, que era outro membro dessa época, saiu vendendo o show. Saímos para valer, íamos viver de música. A gente levou um “ferro” financeiro terrível. Já tava “brochando”, eu acho BH uma cidade dificílima de transar música, só vão os amigos. Quem tem mais amigos, leva mais gente. Saímos nesta excursão, tivemos prejuízos, desânimo e pintou um tal de Circuito Universitário, com um empresário lá em BH. Éramos nós e mais três compositores de lá. O Circuito – a faca que cortou tudo – o cara deu o cano na gente, foi um troço horroroso. Então eu acho que a morte mesmo do Catarse foi isto. Falta de opção de se expandir, todo mundo está a fim de por o trem para frente, de brotar, de ser músico e fomos só cortados; tanto nesta excursão pelo interior, quanto este Circuito Universitário, acabou furando. O cara fugiu com a grana, foi para a Inglaterra.
Dalla, se em BH só vão os amigos, em Brasília é melhor?
Foi bem diferente, 90% do pessoal que foi, era gente desconhecida.
Por que você ainda não gravou?
Esse negócio de gravação é um eterno jogo de empurra-empurra. Para você entrar dentro de uma gravadora, ou você está apadrinhado ou então você luta assim: vai para o Rio com o violão nas costas, igual muita gente “nova” aí. Este pessoal “novo”, é gente que está há mais de 10 anos tocando em bar, em boate e tal. Então a gente tentou muitas vezes, levando fitas para gravadoras, inclusive a Warner a gente conhecia o “olheiro” da Warner, o Marquinho, que morava em São Paulo pediu a fita, levamos a fita e este jogo da Warner durou um ano e meio. Jogo de empurra-empurra. Fomos em São Paulo, gravamos, ficamos lá 15 dias. Catarse gravando e o disco vai sair no mês que vem… Você vai para BH e espera a resposta. Aí 2, 3 meses, nada. Eu ia em São Paulo: Cumé? “Não, tá tudo em cima, é questão de burocracia, a música de vocês agradou e tal”. Aí a gente desistiu desse lance de gravadora, resolvemos gravar independente, quando começou o Antônio Adolfo, o primeiro disco dele independente. Aí pintou na cabeça da gente, vamos gravar. Nós imaginamos que gravar independente, era alugar um estúdio, pagar o estúdio, ir na fábrica, prensar o disco, pagar o disco e tal. Na verdade, estes lances de disco independente é um “puto” de um lance empresarial, só porque é desligado da gravadora. Mas, por exemplo: Antônio Adolfo ou o pessoal novo aí, Boca Livre, eles têm assim uma “puta” de uma imprensa. Não é o Boca Livre que vai lá, igual a gente imaginava e gravava o disco, eles têm nego rodando o Brasil para divulgar, eles têm nêgo… é, é uma empresa mesmo. Então eu fui até conversar com o Antônio Adolfo, ele falou: “olha bicho, eu tenho assim 50 caras trabalhando comigo com salário e tal; rodando o Brasil, distribuindo disco, eu só fui lá, gravei e investi”. Então, de repente eu táva assim sozinho, sabe? Saí da casa do Antônio Adolfo com a cabeça lá no chão. Porque eu achava que era chegar e gravar um disco. De repente, depois de seis anos de batalha musical, foram pintando grilos e grilos e eu achei que não era artista. Eu sou um compositor, sou um músico. Mas, de repente eu vi que eu estava muito longe de ser artista, do cara que vai na televisão: que aguenta o “rusch” que é ser artista. Do cara que vai na gravadora, que tem contrato, vira e mexe, ou seja, a postura do artista… Eu saquei que era bem mais “povo”, bem mais “butiquim”, bem mais roça, que artista. Aí esse trem bateu na cabeça, isto ainda na época do Catarse e quando o Catarse acabou eu falei, pô, vou dar um tempo e ver qual é a minha, porque, de repente, eu era todo artista, minha vida todinha voltada para a música. Eu estudava, fazia sociologia, mas ensaiava todo dia, ou seja, a cabeça voltada para aquilo – ser artista. Então comecei a questionar isto. Fiquei dois anos parado, sem tocar cheguei à conclusão que eu não tinha nada de artista, eu era um cara que, sei lá, indominado. Pegava no violão qualquer hora e fazia músicas, mas não tinha “saco”, aquela luta que vive um artista aí. Que eu era mais pegar um violão e ir ali para o bairro do Rosário e tocar, do que enfrentar assim o show “business”, né? Com som, iluminação, empresariado e virou minha cabeça. Então foi quase uma decisão minha, então eu falei: Pô, não tem nada a ver!”
Hoje se fosse para você gravar um disco, você gravaria?
Acho que não. Dentro dos meios empresariais, nunca. Não gravo mesmo. Minha opção é continuar amador. Quando pintar um show, ótimo. Como o show em Brasília, tinha dois anos que eu não tocava. Eu conhecia mil músicos em BH, então reunimos, ensaiamos e fizemos o show.
Dalla, fale de alguma música sua, que você tenha preferência.
Ah! Não tem não. Acho que o meu trabalho é um todo. De uns tempos para cá, inclusive, porque antes eu fazia canção, eu tinha uma facilidade de musicar incrível. Wandão (Wander Porto) inclusive é um cara que eu quero citar, porque meu trabalho é muito ligado a ele. Não só nas letras, porque ele é o letrista, como também no trabalho musical e na minha evolução. Ele continua fazendo música comigo. Eu acho que o Wandão foi um cara que pintou na minha vida pra valer mesmo. A gente varava noites discutindo tendências culturais, musicais, literárias, etc. Wandão botava a letra na minha frente e assim, papo vai, papo vem e o “trem” numa hora estava pronto. Aí eu comecei a ficar insatisfeito musicalmente. Aquilo parecia brincadeira, pintava a letra, pintava a música e pronto. Então eu comecei a fazer um trabalho instrumental, trabalho mais elaborado. Quando o Wandão me deu a letra de “Índio Contemporâneo”, por exemplo, eu fiquei três meses compondo a música. Então eu acho que a música que eu mais gosto é a última; é sempre a última. É uma constante, é uma coisa ligada a outra. Então a última música é sempre a conclusão do trabalho todo. E nunca vai ter a última, nunca vai ter fim.
Dalla, você acha que a abertura política no Brasil tem influenciado na música brasileira?
Eu acho que influenciou muito porque eu vivi muito isto: a época da autocensura. Época que a gente ia para o boteco tomar cerveja e começava a conversar política e o nego: “ô, tem um cara ali olhando, fala baixo”. Aí a gente já mudava para Cruzeiro e Atlético… Inclusive numa música minha, há seis anos atrás, música que eu fiz para Che Guevara, que devia se chamar “Ao meu amigo Che”, título de um livro que eu tinha lido, chamou “Veja você”… E eu naquele meio ali, ou seja, era difícil compor, era difícil fazer metáforas, aí eu acho que essa “abertura” que eu ponho muito entre aspas, porque eu acho que ainda existe restos disso. Você vê que “Geni e o Zepellin” foi proibida, né? Eu acho que abriu a cabeça do pessoal. O pessoal de repente ficou só na parte artística, se soltou mais. Não sei, acho que essa abertura aí é muito relativa, acho que ainda subsiste aquele medo. Então eu acho que o pessoal não se libertou totalmente.
Como você vê o músico brasileiro hoje?
Olha, eu sempre vi, não só hoje, mas sempre, o músico brasileiro, o brasileiro em si, o melhor do mundo. Você olha “Genesis”, “Yes”, este pessoal veio de escola, de conservatório, pessoal que teve uma formação clássica, que estudou para ser aquilo, então os arranjos são todos medidos, todos dentro da pauta, tudo dentro da regência da estruturação, do engenheiro de som. O “Yes” vai gravar um disco, não é o “Yes” só, são os engenheiros de som, é a maquinaria, os pedais, os sintetizadores e a tecnologia. O músico brasileiro é um cara super intuitivo, é um sujeito assim que vai assobiando na rua. Inclusive uma vez eu vi uma entrevista com o “Cat Stevens” e ele falou que nunca tinha visto um cara andando na rua e assoviar. Então o brasileiro, eu acho que ele é músico por intuição. Você pega um cantador nordestino, se você for analisar dentro da teoria musical, aquela cantoria do repentista é a mesma estrutura da música indiana. Que é uma estrutura completamente diferente, semitons e tal. E quando que o cantador nordestino pensou em semitons, sabe? Eu tenho certeza que a revolução musical mundial está dentro do Brasil. Já vi inclusive Hermeto Paschoal concordar comigo: ele falando que este é o país dos sonhos. E é mesmo. Você vê a gama de ritmos que tem. Minas Gerais tem um ritmo. Rio tem o samba, o Sul tem outro, Bahia tem o berimbau, candomblé. Eu acho que este pessoal que está gravando independente, essa revolução sonora que eu estava falando, tá é neste pessoal. O disco independente tem a grande vantagem do nego entrar na gravadora e fazer o que quer.
O caso do Elomar, por exemplo?
É, o Elomar, o “Boca Livre” e este pessoal independente todo. Eu acho que se este lance independente não vingar, se não pintar sujeira por trás, isto aí será a revolução musical, porque de repente pinta o Elomar, lá das Carrancas, num sei de onde e grava um disco. Você escuta e fala, pô que qui é isto? De repente pinta o Mário Sérgio, que é uma figura lá do Rio Grande do Norte e grava um disco independente, com arranjos longuíssimos de viola. Pinta o “Quinteto Armorial”; então essa gama de ritmos, eu acho que ela pode estourar nestes discos independentes. O músico profissional no Brasil, ele é “fudido” mesmo. De nego que vai comprar direitos autorais, igual aquela menina, a Joana que tocou uma música dela numa novela das seis, aí não sei qual ela foi receber os direitos autorais, tinha noventa centavos. Aliás reforça a teoria da revolução, porque o músico brasileiro é músico mesmo, sabe? É um cara que tem altas batalhas, passa fome, dá a vida para o “trem”. Que às vezes tem que trabalhar em banco, num sei onde, para sobreviver. Diferente de lá, na Inglaterra, EUA, Europa, o cara tem um lugarzinho dele, ele é músico erudito, ganha por aquilo. É músico pop, ganha por aquilo. Aqui não, o cara é músico por força mesmo, e às vezes tem que pagar por aquilo.
Ele não vive só de música, né?
De jeito nenhum.
Você pretende ficar aqui?
Eu tô assim, pensando demais em voltar para cá porque aqui é meu meio. Antes de vir para aqui eu estava no Rosário com dois amigos, bebendo uma cervejinha. A dupla Amarildo-Amarante (sei não, sabe?) aqui é meu meio, aqui eu me sinto à vontade. BH não é aquela guerra de todo dia, além do dinheiro eu mexia com som, “botá” som para os outros, aquela loucura de caixas para um lado, sobrando pouco por mês, sabe? Daí não dava tempo para fazer música, quando eu me libertei do artista, eu não quero mais ser artista, pronto, acabou. Isto me puxou mais para aqui, desenvolver mais o meu trabalho. Porque eu acho que o meu trabalho é super ligado a isto daqui. Eu acho que as melhores músicas que eu fiz foram feitas aqui em Patos, sabe? Então eu quero desenvolver o meu trabalho artístico é por aqui. Desligado de ser artista, porque o “ser artista”, você está compondo e pensando: Isso vai agradar essa ou aquela pessoa? Você tem que fazer um arranjo, você tem que por um violino agora, que vai emocionar tal passagem. Inclusive tem até departamento de Marketing de gravadora para isso. Eu me meti nesses meios todos, meio do artista, eu vivi aquilo ali, vi como é que é, medi, pensei, então o seguinte: determinada hora vai entrar uma orquestra de violinos, porque isto vai emocionar o ouvinte a comprar o seu disco. Então quando eu me desliguei disso, eu achei que me abriu espaço musical tipo Bach, tipo Tchaikovsky, melhor exemplo, era um cara que tinha uma figura que pagava para ele compor, que dava comida e bebida para ele compor. De acordo com aquilo, ele viveu preso a isto 15 anos, um dia “meteu o pé na bunda da mulher”, ele fez as melhores obras, mesmo passando fome. Ele se desvinculou. Então este afastamento meu da indústria da música, nossa, eu acho que abriu assim, de repente pintou uma amplitude imensa na minha mente, eu acho que estando aqui e Patos, não tem mais motivo de ficar em BH. Ficando aqui no meu meio eu tenho muito mais espaço para compor. De repente sai um show em Brasília, em BH, Rio, mas pelo amor de Deus, meu lugar é aqui.
Dalla, você nota alguma evolução da música em Patos da sua época, 69/70 e da música em Patos atualmente?
Eu acho o seguinte: teve a nossa época, a época minha, do Luiz, do Tiofim, do Noé, do Gérson Beu, aí de repente, mudou todo mundo, ficou um vazio. Agora de três anos para cá, inclusive era uma coisa que a gente comentava: pô, nunca mais pintou ninguém em Patos, aí de repente, inclusive eu acho que a grande força foi o Gilmar. E do Gilmar pintou você (Marcos), Waldemar, o Charlies. Eu conheço três cidades em Minas Gerais que têm um movimento musical forte: Patos, Divinópolis e Juiz de Fora, só.
E Montes Claros?
Problema de Montes Claros é o seguinte: tem, mas o núcleo é BH. O Raízes por exemplo, é quase todo mundo de Montes Claros, mas em Montes Claros não tem não. Do jeito que tem aqui, nunca. Eu acho que este movimento, vamos falar, eu acho que é o Gilmar mesmo. O Gilmar que acordou de repente, né? Pô, eu achei “bão” demais, de repente ter um grupo de música aqui. Eu acho que não é evolução, não, é uma continuidade. Uma coisa que nasceu. Eu acho que este lance nasceu com o Gérson Beu, foi um cara que deu muita força para a música em Patos e O Zíngaro 7, que era o Castelo, o Walter Borges. Então eu acho que isto não podia morrer de repente, pô, será que não existe mais músico em Patos?
Você não acha que a discoteca influenciou em abafar?
Nossa, demais. A discoteca foi um atraso.
Por que os conjuntos se dissolveram e perderam o sentido?
Pois é, porque o conjunto era um conjunto de Baile, criou o movimento musical em torno do conjunto. Walter Borges por exemplo, ensinava violão para todo mundo. De Walter Borges nasceu eu, Gérson Beu, Castelo, Ivan Noé. Aí de repente pintou essa coisa de discoteca, arrasou. Foi uma concorrência muito desleal, você põe um gravador, amplificador, umas caixas de som e pronto. Você não tem que pagar o músico, né? Quando pintou a discoteca eu sempre dizia que era uma coisa passageira, porque o músico, o homem, o ser humano, é uma coisa que transborda, que emite emoção a cada segundo. O contrário da discoteca que é uma coisa maquinal. Que foi desleal, que foi colonialismo americano, isto não tenho dúvida. Mas eu acho que a força do músico brasileiro é uma coisa barra pesada. Você vê que em Patos de Minas, uma cidadezinha no meio do mundo, tinha um movimento humano contra discoteca, tinha um show aí do “Canto-Chão”, tinha um show “Palavra Clara”, né?
Dalla, como você falou, a discoteca foi passageira, você vê assim se está pintando um outro estilo musical de massa, depois da discoteca? Por exemplo, de época?
Ah! Rapaz, eu acho o seguinte: nós estamos numa fase de transição muito grande, pinta um rock novo, pinta o “reagegge” (sei lá). Mas eu chamo isso de satélites artificiais uma coisa que tá ali, puf, e não move nada. Então, nós estamos numa transição, porque além disso o brasileiro tem mania de movimento. Pintou o movimento da jovem-guarda, pintou o movimento da bossa-nova, o do tropicalismo, então está todo mundo esperando um movimento que não aconteceu ainda. Então você vê a renovação da música popular brasileira. Estamos numa transição entre o Intuitivo e o Eletrônico. O Eletrônico pintou guitarra, pintou discoteca, aquela música fabricada mesmo. E na Intuição entra o Brasil, o ritmo, o balanço, porque eu acho que o ritmo brasileiro, o balanço é o forte. Essa renovação, este mundo de gente gravando é uma transição tipo “Bandolins”, como é que chama o cara, o Oswaldo Montenegro, eu acho que é tudo satélite artificial para culminar numa coisa fortíssima que eu acho que vai deslumbrar este mundo.
Você viu o Festival da Globo?
Vi, o 1º achei terrível e não quis ver mais não. Você vê que é máquina, nem tem público. No tempo do Geraldo Vandré, no Maracananzinho, só com o violão, iluminando 40 mil pessoas. Você vê o Festival da Globo, é máquina, 200 pessoas que é o júri, vendo aquilo ali. E eu acredito muito na beleza, na intuição. Eu acho que o que vai prevalecer no mundo é a intuição, é a harmonia bonita, a melodia, longe dos pedais, das distorções, que eu inclusive participei. A volta ao simples, à melodia, harmonia e ritmo. Eu vejo essa volta, cada dia pinta mais na minha cabeça. Daqui um tempo, sei lá se vai ter uma explosão nuclear, sabe? Se vai “fuder” tudo, sei lá o que vai acontecer. Mas eu vejo direitinho a volta ao natural, à harmonia. Eu acredito no belo, ele é que toca. Partir disso aí eu acho que é loucura mesmo. Destruir o belo, é loucura. Eu acho que a música pop, o rock, chegou num beco sem saída, o rock tocado por Elvis Presley, Beatles, é uma coisa que te tocava lá dentro, te animava, e era pura emoção. Rock revolucionário. De repente veio o “Genesis”, “Pink Floyd”, este pessoal todo, com mil eletrônica, fizeram um som belíssimo, inclusive lógico tem o seu lugar, o fator determinante, mas de repente estão num beco sem saída; o que o “Yes” trás de novo? O que o “Genesis” trás de novo? Eu acho que a própria música se supera. É uma roda viva muito incrível; porque o rock eu considero um grande ritmo mundial, o ritmo que mais mexeu com a estrutura do homem. O “Peter Gabriel” eu o comparo, se for fazer uma comparação evolutiva, a um músico clássico, a um Beethoven. Eu acho que o Peter Gabriel, foi a saída do rock. Um som dele hoje não tem tanta tecnologia no meio, já é um “troço” quase que enfeitiçado, mágico.
Cite um músico brasileiro.
Vou citar dois, que considero os melhores: Luiz Carlos Esteves que tem um trabalho maravilhoso, sabe, e Alceu Valença, e como instrumentista, o Ivan Corrêa, e como poetas (letristas), o Wander (Porto) e o Wilson Pereira, sem bairrismo, é lógico.
* Fonte: Entrevista publicada nas edições n.º 5 (15/07/1980) e n.º 6 (31/07/1980) da revista A Debulha, do arquivo de Dácio Pereira da Fonseca.
* Foto: CD “Viajar no Azul”, produzido em 1995.