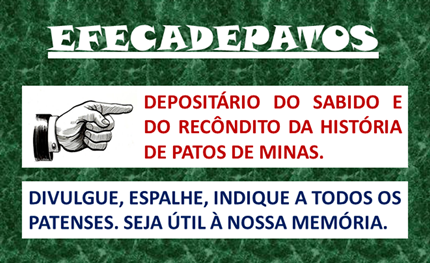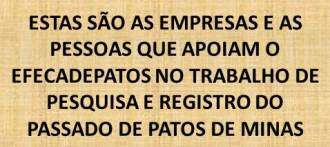TEXTO: MODESTO DE MELO RIBEIRO JR. (1969)
TEXTO: MODESTO DE MELO RIBEIRO JR. (1969)
Como era graciosa, tranquila e feliz PATOS de outrora. No tempo que não se falava em Coafes, Cofafes, Dops ou de Ipemes; simpósio disso ou daquilo, seminário, era seminário mesmo; tempo que não havia inflação e correção monetária; um mil réis era um mil réis mesmo.
Visões, Seleções ou Realidades, sei mais lá o nome que tem, com suas literaturas propagandistas ou ideologias importadas, às vezes subversivas e corruptoras, intranquilizando cada vez mais a nossa gente por êsses Brasís a fora.
Bom mesmo era quando, nas noites escuras, sem lua, a gente montava nas vacas que ruminavam tranquilas, esparsamente deitadas no largo da Matriz.
Lembro-me ainda quando meninos brincávamos com nossos primos no Armazém da Casa do Totó, ali ao lado da velha Matriz; pulávamos sobre os fardos de borracha de mangába que os carreiros traziam nos seus carros de bois, junto com rapadura, algodão em rama ou toucinhos em fardos que trocavam por sal, café, querozene ou arame farpado, para suprir as necessidades de suas fazendas no sertão da Prata, Ponte Firme, João Pinheiro, Manabuiú ou Urucúia. À noite, como era gostoso! Reuníamos em redor dos carreiros para apreciá-los com seus carros de bois, enfileirados è frente da loja, onde armavam as “Mariquinhas”, trempes para cozinhar e temperar a comida, cujo cheiro se percebia ao longe. Ascendiam o fogo e ali mesmo assavam a carne sêca que comiam com feijão troupeiro. Aquêles caboclos em calça e camisa de algodão grosso tecido na roça, os meninos “candeeiros”, com suas roupas e chapéus de palha vermelhos de poeira. Como nós os apreciávamos com a nossa curiosidade de criança. Com que disposição comiam. Depois repousavam ali mesmo, debaixo do carro à beira do fogo, depois de tão longa e cansativa viajem.
Quando chovia usavam umas capas feitas de palma de buriti que chamavam de “caroças”.
Lá do outro lado da Matriz ouvia-se o vozerio dos meninos brincando na porta da casa da vovó Limpinha ou da Tia Finoca!
– Bôca de Forno! Forno!
– Tirar um bôlo! Bôlo!
– Sô mestre mandou?
– Iremos todos…
– Pois então vão ali… vão ali… vão ali e dêm um beijo na tia Sinhá, que assentada naquela roda de môças e rapazes lá na porta do “seu” Augusto Borges. E a meninada em gritos, corria largo abaixo cada qual querendo cumprir primeiro a missão e ganhar o brinquedo.
Havia também os visporas na casa da D.ª Adelaide do Vicentinho ou da Dorvina do Juca Borges, onde tôdas as noites se reuniam velhos e velhas, môças e rapazes (motivo para o encontro dos namorados) e, como não podia deixar de ser, também as crianças. Patinho da Lagoa (22), Perninhas do Zé Almério (11), vovó (90), p’ra baixo e para cima (69); cada número anunciado, o “cantor” dava uma designação especial. Ouvia-se daí um vozerio danado; dos novatos protestando porque não entendiam, as velhas impertinentes reclamando silêncio, os moços namorados pouco se davam. Como era gozado! Lá pelas dez horas da noite era servido o café com pães de queijo, biscoito de farinha com torrêsmo ou de escaldar que tão bem sabiam fazer as “quitandeiras” da época Sinhazinha do Zé Caixeta, Dona Adelaide, Dona Rosinha ou Dona Elvina, esta era especialista em roscas de cheiro.
E o nosso tempo de escola; o único Grupo Escolar o “Marcolino de Barros”, ficava ali onde é hoje o Colégio das Irmãs. Dona Olga, Dona Tonha, D.ª Zoraida e as irmãs Alice e Carmem de Moura, as professôras, eram como nossas outras mães. Lembramos e ainda temos saudades até dos beliscões da D.ª Olga… “pensas que por seres filho do Prof. Modesto (o Diretor), que eu vou te poupar” já cachorrinho fica ali de pé frente à parede. É que eu havia espetado a metade de uma pena debaixo da carteira e tocando-a com o dedo produzia um som semelhante ao “berimbáu” que ressoava por tôda a sala, quando Dona Olga entrou de repente.
Na hora de terminar as aulas às quatro horas da tarde, papai mandava as crianças de tôdas as classes, trazidas em ordem e disciplina pelas professôras, enfileiradas frente ao Grupo, no passeio. Depois de cantado o hino da Bandeira ou da Pátria, êle dava a ordem de debandar. A meninada esparramava aos gritos e saltos pelo largo a fora, as vêzes derrubando os tabuleiros dos meninos “quitandeiros” que vendiam doces e biscoitos no portão do grupo à hora do recreio e que ainda ali permaneciam a fim de dispor o resto.
De volta para casa quantas vêzes entretinhamos em dar piparotes nas aranhas pretas e polpudas, que de suas teias trançadas na rêde e nos postes de Iluminação, desciam em cataratas como fios de prata tocados ao vento. Deslizavam e agitavam como serpentinas ali deixadas no último (alegre, verdadeiro e inocente) carnaval daquêle tempo, que, como as aranhas também desapareceu…
 E o nosso brasileiríssimo “tico-tico” que a noitinha às sete horas, dava o seu trinado gostoso lá da copa das frondosas “árvores de arborização”, que contornavam o largo da Matriz. Desapareceu também levando consigo de roldão, a lembrança do repicar festivo dos sinos da velha Matriz; justamente àquela hora, pelo Morais sacristão que, juntamente com os foguetes de rojão soltados pelo seu irmão Joãozinho de Morais Pessôa, anunciava a entrada das novenas para a festa de N. S. da Abadia, do Divino ou de Santo Antônio.
E o nosso brasileiríssimo “tico-tico” que a noitinha às sete horas, dava o seu trinado gostoso lá da copa das frondosas “árvores de arborização”, que contornavam o largo da Matriz. Desapareceu também levando consigo de roldão, a lembrança do repicar festivo dos sinos da velha Matriz; justamente àquela hora, pelo Morais sacristão que, juntamente com os foguetes de rojão soltados pelo seu irmão Joãozinho de Morais Pessôa, anunciava a entrada das novenas para a festa de N. S. da Abadia, do Divino ou de Santo Antônio.
Em seu lugar apareceu, não sei de onde, nem por onde veio, o intruso, o extrangeiríssimo “pardal”, trazendo consigo o indiferentismo das cidades grandes, onde o povo não se conhece, nem mesmo os vizinhos.
Acabaram-se os brinquedos de salão, as rodas de môças e rapazes sentados à tarde à porta das casas e aos domingos às sombras das árvores, brincavam de “passar o anel” ou “a minha direita está vaga”. Foram-se também os “pique-niques” e os bailes da roça. Desapareceu a influência dos roceiros à cidade para assistirem as festas religiosas com suas fogueiras e castelos.
Arranchavam nos quintais, nos barracões, vindo de carros de bois ou à cavalo.
Grupos de roceiros e fazendeiros (quase sempre compadres), agachados ao redor da igreja, aguardando a missa, aproveitavam de seu encontro no “comércio” para fazer negócios ou trocar idéias sobre o progresso de suas fazendas: do gado, da lavoura, de seus sucessos ou insucessos. Sempre se queixando das intempéries mas, nunca deixavam de trazer as suas promessas a Santo Antônio ou São Sebastião: bezerros, leitões, frangos, galinhas, feijão ou farinha.
A Igreja era pequena para comportar todo o povo; lá de dentro vinha o bafo quente num mixto de suor e incênso. A missa era cantada e solenes; a hora do “Santos” ouvia-se a campainha e cá fora o espoucar dos foguetes.
Depois da missa os leilões, ouvia-se a voz do Tonico do Ico: Quanto me dão por esta “marroinha”? Pegava-as pelas pernas, ela punha-se a grunhir estridentemente e, êle a gritar no meio do povo: um conto de réis… um conto e duzentos mil réis… um conto duzentos e trinta mil réis, dou-lhe uma, olha que eu entrego, dou-lhe duas! Um conto e trezentos (dizia alguém do meio do povo); um conto e trezentos! Olhe quem mais der chegue-se a mim que receberei seu lance! Um conto e trezentos, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três.
Pronto é seu (e o roceiro, se fôsse o caso, virava de costas e retirava do lenço o dinheiro para pagar o leilão)!… Os bezerros (sempre amarrados no coqueiro) ou carros de lenha, as vêzes iam a mais de dois contos de réis.
Ao longo das ruas o chão era varrido e atapetado de flôres e folhas; as janelas ornadas com colchas vistosas para a passagem da procissão.
As bandeiras das casas engalanadas com lanternas chinesas. De distância a distância, arcos de bambus e bananeiras com bandeirolas de papêl de sêda, enfeitavam todo o percurso.
Antes da procissão era um vai-vem constante de gente que ia e vinha da Beira da Lagoa ou da Várzea. As môças com seus sapatos novos e vistosos vestidos de chita cheirando a calandra, misturado com o de “água de cheiro”, passavam de braços dados, em bandos, transbordantes de alegria e juventude, acompanhando os Congados com suas calças compridas, saiotes curtos (mini-saia atual) e espelhos reluzentes na testa; os “Moçambiques” com saias extravagantes e babado enfeitadas de rendões, fitas e chique-chique nas pernas.
À frente iam os pretos dançando até chegarem à casa da Justa, a Rainha Perpétua. Iam buscá-la para a procissão, juntamente com o Rei e a Princesa, os únicos que com a Rainha tinham o privilégio de serem cobertos por guarda-sol, (fizesse ou não sol), a pessoa que o segurava disputava esta honraria.
Os cantos em estilo africano eram ouvidos ao longe, bem como o batido das caixas surdas: olerê, olerê! tibum, tibum, bum, bum! Cartuxos de amêndoas doces e santinhos eram distribuidos em profusão pelos festeiros, aos anjos e crianças na procissão. À noite havia recepções na casa do festeiro: banda de música, vigário, componentes do côro, moçambiqueiros, auxiliares dos leilões e barraquinhas. Compridas mesas feitas de cavaletes e tábuas eram colocadas no terreiro, um rosário de tijelinhas de doce de leite e biscoitos da roça. Broas, suspiros, bruvidades, bôlos, e outras gulodices como as “almôndegas” não faltavam.
Acabada a festa, pé na estrada, era o ditado da época! Mas para os pretos moçambiqueiros e congados ainda se ouvia noite a dentro, as vêzes ainda por vários dias, aquela cantiga dolente: olerê… olerê… e o tibum, bum, bum, pela noite a dentro!
Tudo isto também acabou ficando somente a lembrança daquela Patos feliz! Daquela Patos gostosa!
* Fonte: Texto publicado na edição de 24 de maio de 1969 do Jornal dos Municípios, do arquivo do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de História (LEPEH) do Unipam.
* Foto 1: Do Arquivo da Fundação Casa da Cultura do Milho, publicada em 04/04/2014 com o título “Largo da Matriz na Década de 1910”.
* Foto 2: Do Arquivo da Fundação Casa da Cultura do Milho, publicada em 16/02/2013 com o título “Largo da Matriz na Década de 1930”.