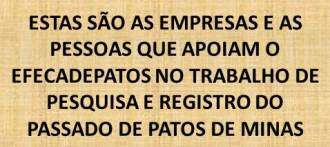TEXTO: ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA (2013)
TEXTO: ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA (2013)
Certa feita o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu: “Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói…”.
O espaço vago, lote deixado a pastar um cavalo sem raça nem nome, esquina noturna em que travestis se prostituem, constitui uma realidade sem brilho, um presente de ingerências e discursos vazios. Na verdade, resultado das ações de “representantes” que agem em nome de sujeitos que se pretendem “invisíveis”. Mas sabemos quem são: especuladores imobiliários. Pródigos em criar “laranjas” e emissários que amparam o homicídio cultural na “Lei” e o justificam em nome do “progresso” e da “geração de novos empregos”. A mesma cantilena. As mesmas frases feitas. No tempo do Major Jerônimo quem se portava assim tinha alcunhas bonitas: aleivoso, baloeiro, mendaz. Hoje simplificamos: mentirosos. E acrescentamos: covardes.
Em uma manhã de sábado, sem aviso, na calada e em surdina, as antigas estruturas da casa do Major Jerônimo Dias Maciel foram jogadas no chão. Enquanto o pó se erguia, era possível ver pessoas gritando e outras estáticas, “bestializadas”. Um menino chorou. Tinha lá os seus onze anos, mas já havia se acostumado à casa, a mirar não apenas a sua imponência, mas a imaginar as festas, as poesias declamadas em francês, a figura um pouco curvada e cheia de mesuras do Major. O menino implorou à mãe que fizesse alguma coisa. Mas a mãe também não pôde fazer nada. Por isso ela também chorou segurando a mão de seu filho, olhos fixos na poeira que se elevava ao céu, além da estupidez humana. Devagar, defendeu as ruínas deixando a imaginação atrelar-se ao vício da história. E assim enxergou um tempo que só os abençoados por Clio conseguem devolver aos homens: afinal, existe um momento em que eles se cansam. Se não se cansam de insistir na impossibilidade de apagar seus vestígios, se rendem à necessidade de se lembrar de quem são.
A história daquela casa remonta ao ano do senhor de 1881. As obras da chácara do Major Jerônimo finalmente haviam terminado. Na verdade não demorara muito para se erguer o casarão colonial feito de madeira e tijolos de adobe, com a senzala nos fundos. Acontece, porém, que o Major, homem culto e refinado, estudado no famoso Colégio Zacharias de Pitanguy nas Minas Gerais de 1840, fizera questão de transladar para dentro de sua casa pedaços da Europa civilizada. Ao contrário da maioria das casas de Patos de Minas, na casa do Major não se fervia água para os banhos. Através de um moderno sistema de serpentina, instalado acima do fogão de lenha da cozinha, as negras já levavam a água quente e generosa para a banheira. Além da antessala, decorada com papel-parede rosa, ele fizera questão de construir um salão de baile. Neste, as paredes eram recobertas por delicado papel português: de perto, linhas rosadas sobre um fundo um pouco azulado, produzindo um efeito impressionista. De longe, a sensação de um rendilhado fino, obra de um artista caprichoso, pincel e tinta em mãos. Do teto tabuado azul, pendia um belo lustre vienense de louça capaz de sustentar uma miríade de velas, erguido por grossa e ostentosa corrente. Espalhadas pelo salão, joviais marquesas aguardavam o descanso das senhoritas em noites de soirée. Ao canto, ao lado de uma das janelas postadas de frente à Lagoa dos Patos, também aguardava o piano: o xodó de “Nhá”, que, por sua vez, era o “xodó” do Major.
Em 1881 Nhá já contava com vinte e cinco anos e com pelo menos três dos treze filhos que viria a ter com o Major Jerônimo. É certo que os filhos que nasceram a partir de Jacques, o quinto, vieram ao mundo na chácara: na “alcova” de teto de palha trançada e sem janelas, onde as mulheres se recolhiam para dar à luz. Após o parto, se fechavam nos quartos: só tomavam banho de asseio, não lavavam os cabelos, passavam a canja de galinha e caldos leves, e por uma semana, não recebiam visitas. Era a tentativa de evitar que os recém-nascidos pegassem o “mal de sete dias” ou a “tiriça”, como também era conhecido. É possível, porém, que a quarta filha de Nhá, Jorgeta, tenha nascido na chácara e, tal qual a mãe, viria a ter um destino afetivo semelhante ao de Nhá: Jorgeta casou-se com o próprio tio, Amadeu, irmão de sua mãe.
As bodas de Jorgeta e Amadeu foram realizadas na chácara. Como convém à tradição, é o pai da noiva quem oferece a festa. Embora o povo falasse um pouco, em especial as solteironas invejosas e as carolas de igreja, o casamento não gerou tanto tabu quanto o de Nhá e Jerônimo. Enquanto Jorgeta era apenas oito anos mais nova do que seu marido, todos na cidade de Patos de Minas sabiam que Etelvina, a “Nhá”, segunda filha do poderoso Coronel Antônio Dias Maciel, era vinte e cinco anos mais nova do que seu tio-marido, Jerônimo. O falatório correu solto quando a moça de dezesseis anos casou-se com o irmão de seu pai, na época com quarenta e um anos de idade. Mas o falatório correu abafado, aos cochichos, porque além da igreja celebrar a união sem considerá-la incestuosa, ninguém era tolo de falar abertamente da vida dos poderosos “Maciéis”.
Etelvina e Jerônimo faziam parte da mais importante família de dignitários políticos de Patos: os Dias Maciel. Oriundos de Bom Despacho, a família se constituiu a partir dos dois irmãos: O Coronel Antônio e seu irmão Jerônimo. Se o primeiro era a “eminência parda” do município, chefe do Partido Liberal, detentor da patente mais alta da Guarda Nacional e agraciado com o título de Barão de Araguary pela Princesa Isabel, o segundo representava a mão que ordenava o município e fazia cumprir suas leis. Além de ter saído de sua pena o Primeiro Código de Posturas de Patos de Minas, o Major Jerônimo foi, sucessiva e às vezes acumuladamente, vereador, delegado de polícia, juiz, presidente da câmara durante o Império, autoridade escolar, coletor de impostos em Patos, Carmo do Paranahyba e Patrocínio, presidente da câmara dos vereadores e agente executivo municipal durante a República e boticário.
Dadas a personalidade e a posição ocupada pelo Major na cidade, sua chácara foi palco de inúmeras reuniões políticas, de compadres, de amigos, de parentes. Ocasiões alegres e festivas como os memoráveis bailes; as soirées embaladas pelo som do piano de Nhá; pelos quitutes servidos pelas negras de vestido e torso imaculadamente brancos; pelas taças cheias de ponche retirados diretamente da poncheira de cristal pelos cavalheiros para fazerem mesuras às damas. Nestas noites, a chácara localizada no limite da cidade, próxima à cabeceira do “Brejo do Açude”, transformava-se em palco de civilidades: diálogos travados como na capital do Império, em francês; ricos leques abanando, escondendo ou mostrando os rostos delicados; acaloradas discussões de jovens bacharéis que tinham na casa do Major terreno livre para expressar ideias republicanas. Fora da instância política e dos compromissos sociais, a chácara era o recesso sagrado da família. Na ausência de um Grupo Escolar, o Major zelava pessoalmente pela educação dos filhos. Afinal, depois de se formar no Colégio Zacharias, submetera-se a exames perante o visitador das aulas da Parochia de Pitanguy e obtivera diploma de habilitação para ensinar particularmente “latim, francez, philosophia e outra matérias”. Antes do almoço, o Major Jerônimo passava as lições para os filhos mais velhos. Só depois da lição e do almoço é que podiam sair pela chácara para brincar e fazer reinações, o que incluía subir nos pés de manga, cair dos balanços amarrados nas árvores, caçar rolinhas, pescar no córrego e empanturrar-se de jabuticabas na chácara do “Seu Juca”, ou melhor, do Capitão José de Santana, vizinho e proprietário condescendente de quatrocentas e vinte e duas jabuticabeiras seculares. No pomar aberto para a garotada estendiam-se outras centenas de frutas, especialmente mangueiras: coração de boi, rosa, espada, sabina, bourbona e coquinho, esta última a mais gostosa. Era o “pé de manga” que ficava perto “da bica do rego d’água que atravessava o pomar”.
 Na hora da merenda, por volta das três horas, o único jeito de chamar a meninada para dentro era gritar na porta do casarão. Qualquer negra podia berrar a vontade que os meninos não se mexiam. Mas bastava “Nhá Telvina” encher os pulmões de ar e chamar pelos nomes, que um a um eles iam aparecendo, mãos, rosto, pernas imundas, enfileirando-se diante da mãe por ordem de tamanho, sempre com os trigêmeos no final: os loiríssimos Ataualpa, Ataliba e Ataulfo. Lavadas as mãos e o rosto na bica que corria atrás da cozinha, antes da senzala, mandavam para o estômago broas e bolos de milho, biscoitos de polvilho, roscas, leite, chá e café. Comiam depressa, na esperança da mãe lhes deixar brincar “só mais um pouquinho” com os filhos do seu Juca, pois os primos já atravessavam correndo a praça dos Sant’anna, “pondo sebo nas canelas” para chegar em casa na hora. Os meninos se lamuriavam a vontade. Nhá não permitia que voltassem aos folguedos. Era muita mão de obra dar banho nos menores, supervisionar os maiores, acertar o abotoamento das camisas, pentear cabelos e colocar laços de fitas nas meninas. Mas, às cinco horas em ponto, quando o sol já começava a baixar, os filhos do Major esperavam por ele limpos e bem arrumados, brincando comportados no jardim do casarão, diante do olhar atento de Nhá Telvina.
Na hora da merenda, por volta das três horas, o único jeito de chamar a meninada para dentro era gritar na porta do casarão. Qualquer negra podia berrar a vontade que os meninos não se mexiam. Mas bastava “Nhá Telvina” encher os pulmões de ar e chamar pelos nomes, que um a um eles iam aparecendo, mãos, rosto, pernas imundas, enfileirando-se diante da mãe por ordem de tamanho, sempre com os trigêmeos no final: os loiríssimos Ataualpa, Ataliba e Ataulfo. Lavadas as mãos e o rosto na bica que corria atrás da cozinha, antes da senzala, mandavam para o estômago broas e bolos de milho, biscoitos de polvilho, roscas, leite, chá e café. Comiam depressa, na esperança da mãe lhes deixar brincar “só mais um pouquinho” com os filhos do seu Juca, pois os primos já atravessavam correndo a praça dos Sant’anna, “pondo sebo nas canelas” para chegar em casa na hora. Os meninos se lamuriavam a vontade. Nhá não permitia que voltassem aos folguedos. Era muita mão de obra dar banho nos menores, supervisionar os maiores, acertar o abotoamento das camisas, pentear cabelos e colocar laços de fitas nas meninas. Mas, às cinco horas em ponto, quando o sol já começava a baixar, os filhos do Major esperavam por ele limpos e bem arrumados, brincando comportados no jardim do casarão, diante do olhar atento de Nhá Telvina.
Entretanto, a casa foi, também, palco de tristezas. A começar pela morte do Major. Em 13 de agosto de 1906, o Major Jerônimo Dias Maciel faleceu aos setenta e cinco anos de idade. Era período de recesso da câmara dos vereadores. Ele havia presidido a última sessão, em 16 de fevereiro e, como sempre, se despedira com amabilidade dos companheiros. Embora idoso, o Major parecia saudável e ninguém esperava que viesse a morrer em breve. Pouco tempo antes, em 1901, fizera a façanha de ser pai mais uma vez, aos setenta anos! Viera ao mundo Flaviana, apelidada de Nhazita, a “rapa do tacho”, como se dizia na época. A cidade pranteou o Major. A Câmara dos vereadores registrou seu profundo pesar por seu passamento. Um ano depois, em 1908, o jornal O Trabalho publicou extensa matéria rememorando a vida e a contribuição do Major para a história de Patos de Minas.
Desde então a chácara não foi mais a mesma. Uma névoa estranha, misto de angústia perene e vazio, se instalou no casarão. Enquanto a cidade crescia rumo à chapada, enquanto os antigos limites se estendiam para além das terras do Capitão José de Santana, a viúva do Major Jerônimo foi enterrando seus queridos. Seis anos depois da morte do Major, Nhá se dilacerou com a morte do filho Jaime, falecido em 15 de março de 1912. Um ano depois foi a vez da mais velha, Amália, falecida em 25 de julho de 1913. Quando a morte pareceu ter deixado em paz o casarão; quando os netos começaram a correr pelo jardim; quando os tios gêmeos solteiros, Ataliba e Ataulfo inventavam para os sobrinhos que não podiam pegar as jabuticabas porque elas ainda estavam “com catapora”, a tragédia mais uma vez se abateu sobre a chácara: o longo sofrimento de Nhazita, a filha mais nova. Nhazita ficou definhando na cama, sem que nada curasse o mal que lhe minava as forças. Nem remédio, promessa, garrafada, despacho ou benção de padre. O primo Adélio, médico formado no Rio de Janeiro, e filho mais velho do Coronel Farnese Dias Maciel, irmão de Nhá, fizera o diagnóstico: meningite. Ninguém se conformava. Tinham adoração pela caçula, nascida dois anos depois dos trigêmeos. Era um pecado vê-la naquele estado em plena flor dos seus vinte e um anos. Nhá Telvina não abandonava a beira do leito. Mantinha limpa a roupa de cama, dava banho, trocava todos os dias a camisola e penteava os cabelos da filha. Insistia para que comesse. Qualquer coisa. Mas Inhazita não reagia. Quando Nhá Telvina soube que o renomado médico Carlos Chagas viria a Patos e se hospedaria na casa de seu sobrinho Adélio, implorou ao irmão Farnese, ao sobrinho, a quem quer que fosse à chácara visitá-la, para que não se esquecesse de levar até lá o Doutor Carlos. Depositava nele toda a sua esperança. Tinha certeza de que ele daria um diagnóstico diferente e que salvaria Nhazita. Carlos Chagas foi à chácara a cavalo, com Adélio. Adélio preferiu ser discreto, deixar o convidado examinar a prima. É possível até que tenha rezado para estar errado no diagnóstico e o respeitado cientista conseguisse oferecer um lenitivo a sua tia. Seus olhos acompanharam a delicadeza, a presteza de Carlos Chagas ao fazer um exame demorado. Mas não houve apelo. Inhazita estava mesmo com meningite… Flaviana Maciel, Inhazita, faleceu no dia 14 de dezembro de 1923. Naquele ano não se comemorou o Natal na chácara.
Três anos depois, Nhá enterrou seu segundo filho: Agenor, aquele que seguira os passos do pai e se tornara farmacêutico e vereador desde 1912 até 1926, quando faleceu aos cinquenta e um anos. Agenor era um dos cinco filhos de Nhá, que não havia se casado. Sem ele, a mãe contou com a companhia dos outros cinco filhos solteiros: “Nini”, apelido de Eumênia; Olinto, Dolores, Marieta e Ataliba. Não raro recebia visitas da filha Jorgeta que, embora não tivesse tido filhos com Amadeu, irmão de Nhá, fazia questão de abrigar os sobrinhos no suntuoso palacete que seu marido construíra na Avenida Municipal. Nhá Telvina poderia ter vivido bem mais do que seus setenta e sete anos. Mas a notícia da morte de seu irmão Olegário Dias Maciel, Presidente do Estado de Minas Gerais, certamente foi demais para ela. A diferença de idade entre eles era mínima: Etelvina era apenas um ano e um mês mais nova do que Olegário. Os irmãos haviam crescido juntos e compartilhado da mesma educação refinada na infância, pressurosamente supervisionada pelo tio Jerônimo. Apesar de “miúdos”, mais baixos que a maioria das crianças, jamais se intimidaram com o mundo, com as pessoas “mais altas” ou com as convenções. No Império e na velha República, um sobrenome valia mais do que mil tabus, e Etelvina e Olegário sabiam disso muito bem. Olegário Dias Maciel faleceu em 5 de setembro de 1933. Etelvina faleceu treze dias depois.
Após a morte da “Nhá” a cidade foi apressadamente se aproximando da chácara. Para pagar dívidas ou recomeçar a vida em outros lugares, os herdeiros foram vendendo as partes que lhes couberam no inventário. Aos poucos, da chácara restou apenas o casarão, situado na esquina da Rua Padre Caldeira com a Rua Major Jerônimo. Passados os anos, ficou conhecido como a “casa dos beatos”, por causa dos irmãos solteiros que ali viveram até a morte. Quem sobreviveu a todos os irmãos foi o gêmeo Ataliba, que também não se casou. Já idoso e encurvado pelo tempo, vinha sempre ao alpendre observar o movimento, trocar alguns dedos de prosa com as pessoas que passavam e responder à meninada que perguntava se podia “pegar as jabuticabas”. “Seu” Ataliba dava uma risadinha, balançava negativamente a cabeça branca, tão alva quanto a pele, e estendia o dedo professoral para responder: “Ainda não! Elas estão de catapora!” Ataliba Dias Maciel faleceu em 1986, aos oitenta e oito anos de idade.
Dezenove anos depois, na manhã de 19 de fevereiro de 2005, sua casa e as memórias que ela evocava vieram ao chão. Porém, certa feita, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu: “Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão”.
* Fonte: Texto de Rosa Maria Ferreira da Silva, Doutoranda em História pela Universidade Federal de Uberlândia, na linha de pesquisa “História e Cultura”. A versão original deste texto foi composta pela historiadora dentro das atividades que desenvolveu na Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural da Prefeitura de Patos de Minas, entre 2008 e 2010 e publicado na edição n.º 14 da Revista Alpha (UNIPAM), de novembro de 2013.
* Foto 1: Arquivo de Newton Ferreira da Silva Maciel.
* Foto 2: Arquivo da Prefeitura Municipal de Patos de Minas.