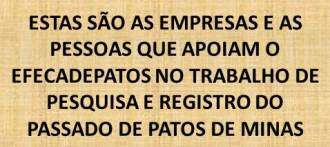A entrevista que se segue, gravada no início de 1990, na casa do poeta em Patos de Minas, traz em viva voz esse espanto – transfigurado em “maravilhamento” – de Altino Caixeta de Castro diante da poesia. Nela, ele fala de sua descoberta do verso, do pastoreio das cabras e das palavras, da rosa como metáfora do poema, da beleza, da mulher, do artesanato da forma e do “transe” necessário ao fazer da escritura. Com humor e erudição, cita poetas, filósofos e críticos de vários tempos e tradições, declama versos seus e alheios, brinca e se deslumbra com suas próprias perplexidades de poeta.
A entrevista que se segue, gravada no início de 1990, na casa do poeta em Patos de Minas, traz em viva voz esse espanto – transfigurado em “maravilhamento” – de Altino Caixeta de Castro diante da poesia. Nela, ele fala de sua descoberta do verso, do pastoreio das cabras e das palavras, da rosa como metáfora do poema, da beleza, da mulher, do artesanato da forma e do “transe” necessário ao fazer da escritura. Com humor e erudição, cita poetas, filósofos e críticos de vários tempos e tradições, declama versos seus e alheios, brinca e se deslumbra com suas próprias perplexidades de poeta.
Como se deu para você a descoberta da poesia?
Minha história de poeta é muito triste, pois descobri a poesia no pessimismo existencial de Augusto de Anjos. Quando eu era criança, de cabeça raspada e pés descalços, vivendo na fazenda Campo da Onça, decorei, pela primeira vez, um poema que vi em um almanaque. Era aquele soneto de Augusto dos Anjos, que diz assim: “…o homem que é triste/Para todos os séculos existe/ E nunca mais seu pesar se apaga!” Eu tinha entre 7 e 9 anos de idade. Ou melhor, não tinha idade. Creio que daí venham certos ressaibos – filosóficos, talvez – da poesia de Augusto dos Anjos em minha poesia.
Mas você continua sendo um poeta sem idade, por trazer todos os tempos possíveis (e impossíveis) em sua poesia…
Uma vez fiz para uma menina um verso de circunstância – isso, antes que o Manuel Bandeira colocasse em voga a idéia do poeta de circunstância – que dizia assim: “Eu não preciso do tempo / porque sou eterno / Necessito apenas / dos mínimos espaços / que demoram / entre mim e seus braços”. Meu destempos, meus dez tempos são minha eternidade provisória.
Sem dúvida, o signo mais recorrente em sua poesia é a palavra rosa. Como você explicaria esse signo?
Como dizia Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa é uma rosa. É bastante interessante esse poema, porque nele a poetisa toca uma questão da semiologia moderna. Ela antecipa o livro O Sistema dos Objetos, de Jean Baudrillard. Ela, sem querer, fez uma semiologia do objeto rosa. Aliás, a rosa é o arquétipo da coisa, como diz o Borges. Borges, na verdade, buscou essa imagem em Crátilo, personagem de Platão. Tanto é que tenho um poema em que rimo “rosa” com “coisa”. Uma semi-rima sutilíssima, nunca usada nem pela Cecília Meireles ou pelo Guilherme de Almeida, que era um mestre das semi-rimas.
A rosa seria, em sua obra, uma metáfora do poema e uma metonímia da prosa?
Pode ser. Mas quando a rosa me chegou, eu não pensei nisso. Só muitos anos depois é que soube dessa parolagem. Minha mãe plantava rosas em torno de nossa casa. E minha poética é muito ligada à minha mãe. Acho que por causa dela fiquei muito impregnado pelo sentido da rosa. A vida inteira. Mais tarde descobri que a rosa era um símbolo difícil, mesmo para a poética. Descobri, mais teimei no símbolo. A rosa tem também uma dimensão filosófica, de feição heideggeriana, em seus poemas, apontando para a imagem da “morada do ser”. E mesmo mística, se pensarmos na idéia da mandala que se faz presente no livro Cidadela da Rosa: com fissão da flor. Isso me lembra um poema que está no livro O Diário da Rosa Errância: “Mandá-la para Vênus./ Mandá-la para Eros./ Mandá-la para Deus./Mandala do mistério.” Mas é verdade, a minha rosa é metafísica. Mas a imagem da “morada” eu debito a Gaston Bachelard, que escreveu aquele livro lindo, A Poética do Espaço. Coloquei muitas moradas em minha poética, metaforizei várias vezes a morada dentro de meus poemas. E a rosa ficou sendo a morada essencial. Já Heidegger foi o filósofo-poeta que mais influenciou minha concepção da poesia moderna. Para ele, o “poeta é o pastor do ser” e a poesia é “a realização do ser pela palavra”. Isso me chamou muito a atenção. Tanto é que meu primeiro livro ia se chamar Pastor de Sonhos – isso, trinta ou quarenta anos atrás.
E por que você optou pela imagem do “pastor do espanto” para definir o trabalho do poeta?
É o mesmo pastoreio. Na minha poesia, como eu disse, minha mãe é sempre a presença essencial. Coisa que os críticos em geral não percebem. Aliás, em se tratando de crítica, prefiro aquela que é feita pelos poetas-críticos. Como Eliot e Pound. Eles são melhores do que os outros, pois conseguem surpreender muito mais a poesia dos poetas. Mas como eu estava dizendo, minha mãe tinha, na fazenda, um rebanho de carneiros que eram dela. E meu pastoralismo passou por minha mãe antes de chegar aos meus poemas e antes que eu descobrisse Heidegger e seu pastoreio do ser. Tenho uma “Coroa de Sonetos Para Uma Cabra”, ou seja, catorze sonetos sobre a cabra, que não era cabra na verdade, mas uma metáfora. Não sei se você sabe, mas nasci de 7 meses e minha mãe não tinha leite, ainda não estava ainda preparada “galacticamente” (risos). E assim tive que ser amamentado por uma bela cabrita – uma mulher morena-escura, quase negra. Sequei o leite da cabrita. (risos) Aí minha mãe arranjou uma cabra de verdade para mim. Mamei, literalmente, nessa cabra, aos 2 ou 3 anos de idade. Tudo isso ficou impregnado na minha lembrança, no meu sensorialismo: os carneiros de minha mãe, que ela mandava tosquiar para tecer a lã, a cabrita morena que me amamentou quando nasci e a cabra de verdade que veio depois.
Realmente, as imagens relacionadas a essas reminiscências sensoriais estão muito presentes na sua poética. As cabras, os carneiros, os pastos, o leite, os seios, a boca, o beijo, o ato de mamar são recorrências explícitas. Algo da ordem da oralidade, no sentido psicanalítico do termo, não? Se bem que a oralidade, do ponto de vista lingüístico, também é uma das linhas de força de sua poética.
Isso está no meu poema “Soneto em Limbos”: Mamar na luz que vem das nebulosas,/Dar pojo no mistério das estrelas,/Depois lamber os úberes redondos/ Da ovelha fulva ou ser lambido em limbos. Aí eu já estava “adulterizado” e usei as leituras que eu tinha da psicanálise de Freud. Aliás, não sei se você já reparou, mas esse é um soneto branco, sem rimas. Só tem ressonâncias internas. Como fazem os ingleses. Os poetas ingleses quase não rimam nas pontas. E não rimar nas pontas torna, muitas vezes, o poema mais bonito, pela força das aliterações e sonoridades internas. E por falar em psicanálise, costumo citar com freqüência um fragmento de Lacan – “o inconsciente é o discurso do Outro” – que, de certa forma, influenciou o primeiro poema do Cidadela da Rosa, intitulado “Discurso”. Os críticos costumam elogiar esse poema. Affonso Romano de Sant’Anna, por exemplo, que é um bom poeta e escreveu um livro sobre Drummond, ficou surpreso porque eu dediquei o “Discurso” a Michel Foucault, Roland Barthes e Julia Kristeva. Um caipira do interior de Minas escrevendo uma dedicatória pedante aos grandes nomes da filosofia contemporânea! – ele deve ter pensado. Na verdade, escrevi esse poema em um espaço em branco de um livro de Foucault. Os críticos gostaram, ficaram impressionados.
O que você pensa sobre esses críticos e filósofos franceses?
Já li muito da literatura francesa. Sobretudo Sartre, Baudelaire e Camus. Acho inclusive que o pessimismo artificial que tenho, que não é o de Augusto dos Anjos, ao contrário do que pensam, foi muito influenciado pela filosofia de Sartre, mais do que pela obra de Camus. Tenho um poema no livro A Cidadela da Rosa, mais ou menos inspirado no pessimismo sartreano. Aliás, nessa minha sonetilha houve um erro tipográfico e o verso ficou melhor. Mas não foi o erro de Malherbe. Você sabe qual foi o erro de Malherbe? Minha filha chama-se Roselle. Malherbe, poeta francês do século XVI, escreveu mais ou menos isto: “rosa, ela viveu o que vivem as rosas… o espaço de uma manhã”. Mas o tipógrafo errou na grafia. Ao invés de “Et Rose, elle”, colocou “Et Rosaelle. Ficou mais bonito. Esse foi o nome que dei à minha filha, Roselle. No dia de batizar minha filha, consultei o Grand Larousse e vi que “roselle” era um pássaro canoro existente na França. E minha filha gosta muito do nome. Mas voltando à sua pergunta, fiquei muito deslumbrado com a escritura de Barthes, quando li pela primeira vez o livro Fragmentos de um Discurso Amoroso. Muito do Diário da Rosa Errância está ali. Bebi no prazer do texto. Barthes era um poeta, um grande poeta da escritura. Você sabia que ele morreu atropelado porque atravessava a rua distraído, lendo o Cidadela da Rosa? (risos). Já o Foucault não era poeta, mas escrevia muito bem. Li As Palavras e as Coisas umas três vezes quando morava em Brasília.
Você tem uma habilidade impressionante para lidar com as palavras. Ou melhor, uma volúpia pelas palavras e suas múltiplas possibilidades sonoras, visuais e semânticas…
Eu tenho e sempre tive uma volúpia pela palavra. Geralmente, ela me seduz primeiro pela sonoridade. O som de uma palavra sempre me leva a outras palavras que me levam a outras pela força dos ecos, das paronomásias, das assonâncias, das ressonâncias. E muitas vezes ou mais de uma vez, uma palavra me desviou da métrica. No meu livro deve ter no máximo uns cinco versos alexandrinos, porque eu sempre me dediquei mais aos decassílabos. E meus decassílabos são – perdoe a modéstia – muito bem feitos, com cesura e tudo mais. Só tenho um verso decassílabo feito para minha mãe que não pude corrigir. É um endecassílabo: Única mulher que quero ver no céu. Tudo por causa da palavra única. Eu poderia ter colocado “Prima mulher”, mas não encaixava. E eu queria mesmo era “única”, não apenas porque era o vocábulo que dizia mais precisamente o que eu queria dizer, mas pela beleza do proparoxítono.
Você é um poeta que ama a beleza e que faz dela o tema privilegiado de vários poemas. O que é o belo para você?
O que sempre me encanta na vida e na poesia é a mulher. Nela está a beleza que me sensibiliza. A beleza que me estremece. Veja o “Soneto do Belo”, que dediquei a um amigo meu que é cirurgião plástico em Belo Horizonte e a quem chamei de “o esteta da plástica impossível”, pois ele tenta construir artificialmente a beleza que já existe na mulher. O poema diz assim: Da essência da beleza me alimento, / De seu mistério sempre me estremeço, / como poeta, às vezes, reconheço / que a beleza é maior que o pensamento. Nesse soneto eu roubei um pouquinho de Schiller. Penso que a paródia é grosseira, mas paráfrase é aceitável, é boa. E todos os poetas parafraseiam. Os poetas não criam, nós imitamos no inventado. Quem cria é Deus, que tira do nada.
É exatamente isso que atravessa aquele seu poema “Por Que Vim”, no qual você afirma: “Não vim para dizer. Se cheguei tarde / não vim para dizer./ Cheguei tarde porque tudo está falado.” A consciência de que cabe ao poeta inventar no inventado.
É, e você replicou esse poema em um poema muito bonito que dedicou a mim em seu livro Dos Haveres do Corpo. Mas eu nunca estive de acordo com você, poetisa. Aliás, prefiro chamar as mulheres de poetisas. Acho machismo chamar uma mulher de poeta…
Hoje eu talvez não fizesse mais aquela réplica, por entender melhor agora o seu poema… Mas continuemos nossa conversa: você já incursionou alguma vez no romance? O exercício da narrativa o atrai?
Nunca gostei de romance. Gosto de fazer o anti-romance. Quando eu morava em Brasília escrevi umas 70 páginas de um anti-romance que intitulei Cibernéias, uma parafernália da prosa, tudo empolado. Eu empolo a linguagem, as personagens, as minhas referências culturais, tudo. Um texto completamente barroco. Outro dia eu li o romance O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Também uma parafernália, só que uma parafernália semiótica. Fiquei interessado no livro por causa da minha temática da rosa e por já conhecer Umberto Eco como crítico. E foi uma surpresa ver que ele é também um grande romancista. Tanto o é que as primeiras páginas de O Nome da Rosa – e isso foi observado no mundo inteiro – não agradam aos leitores de romance. Isso acontece com Os Sertões de Euclides da Cunha. Umas quinze páginas que são uma beleza e uma prova de fogo para o leitor. No caso do livro do Umberto Eco, as primeiras páginas são melhores que o romance inteiro, porque nelas o romance ainda não começou (risos).
 Voltando à poesia, qual é a sua concepção do fazer poético? Para você, a criação poética é um trabalho de transpiração, de inspiração, de respiração ou de transe? Ou é tudo isso ao mesmo tempo?
Voltando à poesia, qual é a sua concepção do fazer poético? Para você, a criação poética é um trabalho de transpiração, de inspiração, de respiração ou de transe? Ou é tudo isso ao mesmo tempo?
Acho que poesia é fazer. A própria etimologia da palavra diz isso. Mas o fazer poético tem também essa coisa grande, misteriosa, que é o transe. Que está lá no Fedro de Platão: o daimon. O poeta é um “daimoniado”. Um diabo no meio do redemoinho, como diz o Guimarães Rosa. Aliás, o Guimarães Rosa é também um grande poeta. O Grande Sertão Veredas, para mim, não é só um romance. É também um poema épico magnífico. Nele o daimon não está separado do fazer, do artesanato. Penso que todo poeta deve superar o artesão. Mas o artesanato é sempre importante. João Cabral, por exemplo, o poeta da “Educação pela pedra”, lavra o poema. Eu o comparo a Francis Ponge. Ele lavra o poema-objeto. Ele vai além da semiótica de Peirce. E ele consegue ultrapassar o artesão, mesmo que não admita isso. O poeta que não supera o artesão não é poeta. Existe aquela história do sujeito que estava lavrando tanto a pedra para construir uma estátua, usando com tanto vigor o camartelo e o cinzel, que a pedra virou pó. O poeta que acredita no artesanato puro e continua enxugando o poema corre o risco de transformar em pó a poesia. Alguns poetas de hoje, que fazem o culto do poema enxuto, concreto, têm, a meu ver, um quê de parnasianos. Por outro lado, acho que eles têm o lado lúdico do trocadilho, do desmembramento do vocábulo, que me agrada muito. Mas a filosofia deles está um pouco para aquilo que o Bilac coloca naquele soneto, que diz: “Quero que a estrofe cristalina, /Dobrada ao jeito/ Do ourives, saia da oficina/ Sem um defeito.” São versos de uma grande modernidade, não acha? Um culto da forma, tal como se vê hoje. Mas antes dele, Álvares de Azevedo, poeta romântico que morreu muito moço, já escrevera: “Se a estátua não saiu como pretendo/Quebro-a mas nunca seu metal emendo.” Mentira dele, pois ele emendava sim. Mas foi um grande poeta.
E a idéia de que o silêncio seria o espaço por excelência da poesia?
É, essa idéia é boa. É o que chamei de “zero absurdo”. Mas você não pode eliminar o som da poesia, a letra, a forma. O silêncio faz parte das palavras.
Qual é, para você, o papel da crítica de poesia?
Sempre fui desconfiado dos críticos. Tanto, que eu não quis para meu livro uma apresentação. E poderia ter pedido um prefácio ao Oswaldino Marques, aquele poeta que mora em Brasília e que escreveu um estudo sobre a poesia de Cassiano Ricardo. Mas preferi escrever o meu próprio exórdio, o “Topos Exordial do Inédito”. Prefiro eu mesmo fazer minha autocrítica. Como eu já disse, em se tratando de crítica, prefiro a crítica feita pelos poetas. Foi o T.S. Eliot que deu o grande golpe na crítica acadêmica com o seu New Criticism.
Você acredita, como Octavio Paz, que a poesia moderna está sob o signo da “paixão crítica”?
Um poeta invejável, o Octavio Paz. Eu o conheci pessoalmente, fazendo uma conferência sobre poesia em Brasília. Mas sabe o que aconteceu comigo? Não tolerei a conferência dele, pois ele só falava coisas que eu já sabia. (risos) Saí no meio. Isso aconteceu também com uma conferência do Hernâni Cidade, sobre Fernando Pessoa. Ele começou a falar da vida particular do Pessoa. Eu, que estava esperando uma conferência sobre os aspectos filosóficos de Pessoa, sobretudo o seu existencialismo, preferi ir embora. Mas acho que o que realmente marca a poesia moderna é a estranheza, não a crítica. O poeta moderno é um estranho na e à sociedade. Octavio Paz tratou disso melhor do que ninguém.
Vamos falar um pouco sobre o Diário da Rosa Errância e Prosoemas? O que o levou a escrever um livro de prosa poética?
Nada me levou ao livro. Foi tudo circunstancial. Eu nem sabia que tinha escrito esse livro, sinceramente. Acho que eu o escrevi em uma semana, em Belo Horizonte, em 1985. Do jeito que eu sempre gostei de escrever: nas páginas brancas de um livro. No caso, um livro de Roland Barthes. Depois passei a limpo. Minha mulher, Alfa, e Roselle, minha filha jornalista, que adoram adular os meus neurônios, me estimularam a publicar o livro. Resolvi entregar também para minha filha a série de 200 prosoemas intitulada “A Minha Deslumbrada”, para ela selecionar alguns. Ela selecionou 93. E engraçado você ter dito, um dia, que esses textos tinham algo do surrealismo. Eu já tinha, naturalmente, lido André Breton nessa época. Mas meu surrealismo no livro foi inconsciente. O que me inspirou mesmo – e aqui me refiro aos Prosoemas, que estão no final do livro – foi o trabalho dos pintores italianos, em especial de Fra Angelico, Leonardo da Vinci e Michelangelo. El Greco também me influenciou. Já no Diário da Rosa Errância, retomo a temática da rosa. Mas fiz aí uma coisa que nunca tinha feito antes: escrevi textos em prosa com frases curtas, concisas, nas quais a palavra vai puxando a palavra. Lembro que minha filha me falou: pai, esse livro está muito erótico! E respondi que não tinha importância, porque meu erotismo não tem “pornéia” (risos).
Mas a sua poesia é essencialmente erótica, mesmo em Cidadela da Rosa. É uma poesia que, além de ter uma volúpia pela palavra e de explorar as múltiplas possibilidades sensoriais, corporais da linguagem, aborda, com freqüência, uma temática voltada para o amor, o corpo, a mulher.
Pois é. Tenho um soneto em versos alexandrinos, chamado “Perpétua”. Todo simbolista. E o que me levou a escrever o poema foi exatamente a palavra “Perpétua”, que me seduziu. Sou um seduzido pelas palavras. São elas que me erotizam no poema.
Como você vê a poesia contemporânea no Brasil?
Não vejo nada. Além de João Cabral, não existe nenhum grande poeta no Brasil hoje.
Você poderia falar um pouco sobre sua formação? É realmente impressionante a sua erudição, a sua história de leituras nos mais variados campos do saber.
Sou um autodidata no campo das Letras. Cursei Farmácia e Bioquímica, mas não fiz nenhum curso na área de Humanidades. No meu tempo, tudo era mais limitado. Não havia as escolas de Filosofia que existem hoje. Talvez eu devesse ter escolhido o Direito, que é mais próximo da Literatura. Mas eu sempre li de tudo. Só não li muitos romances. Apenas alguns clássicos. Li muita Geografia, Filosofia, Química, História, Biologia. Os livros de ciências são tão importantes para a poesia quanto os de literatura. Goethe, por exemplo, era um cientista. Ele escreveu uma tese sobre as cores e pôs muito da sabedoria científica dentro dos seus versos. Eu não quero me comparar a Goethe, pois é impossível fazer uma comparação dessas, mas eu coloquei muito de minha sabedoria esparsa, vinda do campo das ciências, dentro de meus poemas. Sem querer, sem saber. Inconscientemente. Aquele poema mesmo, o “Discurso”, que está na Cidadela, foi escrito dentro do livro Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. A arqueologia me atrai até hoje.
Mas você é um arqueólogo das palavras, que sabe “escavar o palimpsesto do que te resta”…
Pode ser. Mas para meter a pá no entulho do sexo para desenterrar ninhos… (risos)
Você é também um poeta que ama as mulheres, que elege musas para seus poemas. O que tem a dizer sobre isso?
Vinícius de Moraes dizia: As feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Mas não é bem assim. Às vezes basta que uma mulher tenha um belo nome. Ou uma pinta no nariz. Ou olhos de cabrita assustada, no espanto de ser. Ou mágoas de Flor-Bela. A mulher é necessária ao poeta. Ela é – vou usar aqui um neologismo – uma “ademarragem” para o poema. Mas a química, a filosofia, a física, a arte também são. A mulher não é a única musa do poeta. Uma vez fiz uns versos inspirados na poesia surrealista de Murilo Mendes, que dizem mais ou menos assim: os carneiros esgrimam o enigma dos chifres / as mulheres esgrimam o enigma das lágrimas. Aliás, tenho em um caderno várias frases surrealistas que fui anotando aos poucos. Uma delas é: A tua simpatia (de pathos) passeia primaveras em meu rosto. A outra: Atingido de azul, trapaceio com as palavras a claridade de um anjo. E tem uma outra, que fiz para uma menina de 17 anos, que me mostrou uns poemas que havia escrito: Anjo isósceles, com inspiração para agarrar o azul. Foi daí que tirei para o meu futuro livro o título Inspiração Para Agarrar o Azul. Um livro que talvez eu nunca escreva, mas que já existe.
* Fonte: Entrevista de Maria Esther Maciel originalmente publicada na revista Alpha (Patos de Minas, UNIPAM – 2002) e republicada no n.º 46 da Agulha Revista de Cultura (Fortaleza/São Paulo, julho de 2005).
Maria Esther Maciel de Oliveira Borges nasceu em Patos de Minas a 1.º de fevereiro de 1963. Mora em Belo Horizonte desde 1981. É escritora e professora de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É mestre em Literatura Brasileira pela UFMG e doutora em Literatura Comparada pela mesma instituição, com Pós-Doutorado em Cinema pela Universidade de Londres. Integra o projeto internacional “Problematizing Global Knowledge -The New Encyclopaedia Project”, do Theory, Culture & Society Centre, da Nottingham Trent University (Inglaterra). Suas publicações incluem os seguintes livros: As Vertigens da Lucidez – Poesia e Crítica em Octavio Paz; Vôo Transverso – Poesia, Modernidade e Fim do Século XX; A Memória Das Coisas, ensaios de literatura, cinema e artes plásticas; O Cinema Enciclopédico de Peter Greenaway (org.), O Livro de Zenóbia (ficção), O Livro Dos Nomes (ficção), O Animal Escrito (ensaio) e As Ironias da Ordem (ensaios). Foi Professora Residente do IEAT – Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG (2009/2010). Desenvolveu, como pesquisadora do CNPq, os projetos “Poéticas do Inventário” (2004/2007) e “Bestiários Contemporâneos – animais na literatura” (2007-2010). Seu projeto atual, com bolsa de Produtividade do CNPq, intitula-se “Zooliteratura Brasileira: Animais, Animalidade e os Limites do Humano”.
* Foto 1: Antoniomiranda.com.br.
* Foto 2: Youtube.com.